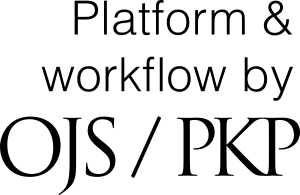Debates da Psicologia da Educação da região Sul do Brasil acerca da violência nas escolas
DOI:
https://doi.org/10.24220/2318-0870v30a2025e14544Palavras-chave:
Educação básica, Psicologia educacional, ViolênciaResumo
A violência é um fenômeno social complexo, com raízes históricas e cujas manifestações transcendem a criminalidade. Nas escolas, o fenômeno da violência, apesar de não ser um elemento novo, ocorre no cotidiano institucional e sua caracterização vem se modificando. Historicamente associado à indisciplina, a violência nas escolas apresenta-se como um fenômeno em crescimento e com diferentes expressões. Este artigo traz em debate os conhecimentos da Psicologia da Educação para discutir a violência estrutural nas escolas com foco na região Sul do Brasil. Foram realizados três movimentos: a construção do estado do conhecimento das produções do eixo Psicologia da Educação da Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa em Educação Sul e Banco de Dados de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD-IBICT); a análise dos dados do Atlas da Violência e do Observatório Escolar; e notícias veiculadas nos portais do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como resultados, percebeu-se, entre as produções científicas, a supremacia da associação da violência escolar ao bullying em uma realidade que aponta a presença de outras expressões da violência nas escolas. Observou-se, também, o crescimento de episódios de violência extrema por meio de ataques às escolas e massacres da comunidade escolar. Nos Observatórios, constatou-se que apenas cerca de 8,8% dos registros correspondem à região Sul, denotando a fragilidade das notificações de violência no contexto escolar. Portanto, discutir a violência nas escolas é um desafio, pois ao mesmo tempo que a escola tem como função educar para a paz, o respeito à diversidade e combater a todo e qualquer tipo de preconceito e ódio, a violência nas escolas reflete os processos de desigualdade da sociedade. Em vista disso, é necessário problematizar e ser propositivo em relação a este fenômeno que compromete a aprendizagem, o conviver e a saúde física e mental das/dos educadores e estudantes.
Downloads
Referências
Alves, N. Sobre movimentos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. Revista Teias, v. 4, n. 7, 2007. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/23967. Acesso em: 15 jan. 2025.
Bernaski, J.; Sochodolak, H. História da violência e sociedade brasileira. Oficina do Historiador, v. 11, n. 1, p. 43-60, 2018. Doi: https://doi.org/10.15448/2178-3748.2018.1.24181.
Bohm, V. Agressividade. In: Nodari, L. (org.). Dicionário de cultura de paz. Curitiba: CRV, 2021. p. 57-59.
Cardona, M. G. et al. Observação no cotidiano: um modo de fazer pesquisa em psicologia social. In: Spink, M. et al. (org.). A produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas. Rio de Janeiro: Centro Edelstein, 2014. p. 123-149.
Carvalho, M. A.; Barroco, S. M. S. A violência na educação: considerações de professores violentados. Psicologia Escolar e Educacional, v. 25, e223573, 2021.
Cerqueira, D.; Bueno, S. (coord.). Atlas da violência 2023. Brasília: Ipea; FBSP, 2023. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9350-223443riatlasdaviolencia2023-final.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025.
Cock, J. C. A. et al. Pesquisas sobre implementação de políticas educacionais no Brasil: um estado do conhecimento. Educação em Revista, v. 38, e26769, 2022.
Deutsch, M. The Resolution of conflict, constructive and destructive processes. New Haven: Yale University Press, 1973. Doi: https://doi.org/10.1177/000276427301700206.
Faria G. et al. Produção do GT 20 Psicologia da Educação da ANPEd: expressão da ciência, da educação escolar e da sociedade contemporânea. Educação, v. 46, n. 1, p. 1-16, 2023. Doi: https://doi.org/10.15448/1981-2582.2023.1.44760.
Ferraço, C. E. Pesquisa com o cotidiano. Educação & Sociedade, v. 28, n. 98, p. 73-95, 2007.
Flickinger, H.-G. Johan Galtung e a violência escolar. Roteiro, v. 43, n. 2, p. 433-448, 2018. Doi: https://doi.org/10.18593/r.v43i2.16095.
Galtung, J. Frieden mit friedlichen Mitteln. Opladen: Verlag für Sozialwissenschaften, 1998.
Garcia-Silva, S.; Lima Júnior, P. L. O papel da violência escolar no abandono da carreira docente: proposta de uma matriz analítica. Educação e Pesquisa, v. 48, e238747, 2022.
Gomes, H. M. Formação docente, currículo e violência escolar: a urgência de uma discussão. Revista Gestão em Conhecimento, v. 7, n. 7, 2021. Disponível em: https://periodicos.ufra.edu.br/index.php/Gestao-em-Conhecimento/issue/view/36. Acesso 15 maio 2024.
Grossi, P. K. et al. Implementando práticas restaurativas nas escolas brasileiras como estratégia para a construção de uma cultura de paz. Revista Diálogo Educacional, v. 9, n. 28, p. 497-510, 2009. Doi: https://doi.org/10.7213/rde.v9i28.3304.
Grossi, P. K., Gershenson, B., Santos, A. M. Justiça Restaurativa nas escolas de Porto Alegre: desafios e perspectivas. In: Brancher, L.; Silva, S. (org.). Justiça para o século 21: instituindo práticas restaurativas: semeando justiça e pacificando violências. Porto Alegre: Nova Prova, 2008. Disponível em: http://hdl.handle.net/10923/7897. Acesso 15 maio 2024.
Guimarães, M. R. Um novo mundo é possível. São Leopoldo: Sinodal, 2004.
Hammes, L. J. Conflito. In: Nodari, L. (org.). Dicionário de cultura de paz. Curitiba: CRV, 2021. p. 187-193.
Kohls-Santos, P.; Morosini, M. C. O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. Revista Panorâmica, v. 33, p. 123-145, 2021. Disponível em: https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1318. Acesso em: 16 jan. 2025.
Morosini, M. C. Estado do conhecimento e questões do campo científico. Educação, v. 40, n. 1, p. 101-116, 2015. Doi: https://doi.org/10.5902/1984644415822.
Morosini, M. C.; Fernandes, C. M. B. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. Educação Por Escrito, v. 5, n. 2, p. 154-164, 2014. Doi: https://doi.org/10.15448/2179-8435.2014.2.18875.
Oliveira, A. R.; Oliveira, N. A.; Protásio, A. R. Recuo da teoria e pedagogia praticista. Revista Dialectus, v. 11, n. 25, p. 246-267, 2022.
Pais, J. M. O cotidiano e a prática artesanal da pesquisa. Revista Brasileira de Sociologia, v. 1, n. 1, p. 107-128, 2013. Doi: https://doi.org/10.20336/rbs.26.
Pereira, E. A. O bullying escolar na legislação brasileira: uma análise documental. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade La Salle, Canoas, 2020. Disponível em: https://svr-net20.unilasalle.edu.br/bitstream/11690/1440/1/eapereira.pdf. Acesso em: 20 mar. 2024.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório de Desenvolvimento Humano 2023-24: Quebrando o impasse: Reimaginando a cooperação em um mundo polarizado. Nova York: PNUD, 2024.
Sá-Silva, J. R.; Almeida, C. D.; Guindani, J. F.. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.
Selau, B. et al. O eixo Psicologia da Educação na ANPEd Sul: entre idas e vindas. Educação, v. 46, n. 1, p. 1-13, 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.15448/1981-2582.2023.1.44936.
Silva, E. H. B.; Negreiros, F. Violência nas escolas públicas brasileiras: uma revisão sistemática da literatura. Revista Psicopedagogia, v. 37, n. 114, p. 327-340, 2020. Doi: http://dx.doi.org/10.51207/2179-4057.20200027.
Simões, E. C.; Cardoso, M. R. A. Violência contra professores da rede pública e esgotamento profissional. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 3, p. 1039-1048, 2022.
Stecanela, N. O cotidiano como fonte de pesquisa nas ciências sociais. Conjectura, v. 14, n. 1, 2009.
Urbanek, L. J. Justiça restaurativa como possibilidade de afirmação dos direitos humanos e de diminuição da violência na escola pública. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade do Rio dos Sinos, 2019. Disponível em: https://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8760. Acesso em: 30 abr. 2024.
Zequinão, M. A. et al. Bullying escolar: um fenômeno multifacetado. Educação e Pesquisa, v. 42, n. 1, 2016.