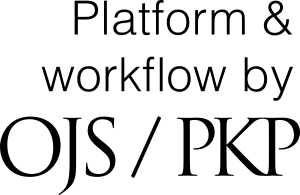Psicologia Indígena, ou a construção de um lócus de mediação
Palavras-chave:
Decolonialidade, Indígenas, Mediação, Meio audiovisualResumo
O objetivo deste ensaio é problematizar as especificidades práticas, teóricas e metodológicas de uma Psicologia Indígena, aventando o emprego das linguagens audiovisuais como meio de pesquisar, documentar e aprofundar o diálogo entre comunidades acadêmicas e indígenas. Trata-se de um campo em construção e reflexão, a partir de uma perspectiva transdisciplinar, complexa, sistêmica e dialógica que contribui para o processo de decolonização da própria psicologia, criando espaços, lócus de mediação para o reconhecimento da existência e resistência da cosmologia e bem viver das comunidades indígenas. Discute-se o audiovisual como uma instância de mediação entre modos distintos de se compreender o mundo histórico, em processos de captura e edição de imagem e som. Conclui-se que tal estratégia desierarquiza a relação academia/comunidades, no esforço de dar protagonismo, potencializar e ampliar as vozes e visibilidades de todos os envolvidos, trazendo avanços práticos, teóricos, técnicos, metodológicos e éticos de se construir, divulgar e compartilhar conhecimentos.
Downloads
Referências
Almeida, M. I. (2009). Desocidentada: experiência literária em terra indígena. Editora UFMG. Angatu, C. (2021). Tupixuara Moingobé Ñerana: autodeclaração indígena como retomada da indianidade e territórios. Revista Espaço Acadêmico, 21(231), 13-24.
Angatu, C. (2022 janeiro 10). Um olhar indígena decolonial sobre as inundações que abriram o ano. Portal Correio da Cidadania. Disponível em: https://www.correiocidadania.com.br/social/14888-um-olharindigena-decolonial-sobre-as-inundacoes-que-abriram-o-ano
Araújo, J. J. (2020). O documentário autoetnográfico do projeto Vídeo nas Aldeias. Teoria e Cultura, 15(3), 122-139. https://doi.org/10.34019/2318-101X.2020.v15.30080
Baniwa, G. S. L. (2006). O Índio Brasileiro: O que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. MEC/Secad/Museu Nacional/ UFRJ. Barros, W. S., & Fresquet, A. (2023). O cinema documentário brasileiro, cinemas indígenas e educação: caminhos para uma pedagogia selvagem. SciELO Preprints. https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.6479
Batista, V. M., & Sampaio, C. R. B. (2022). Os povos indígenas e a luta para serem escutados. V!RUS, 1(25), 4-13. http://vnomads.eastus.cloudapp.azure.com/ojs/index.php/virus/article/view/744/1054
Brasil, A., & Belisário, B. (2016). Desmanchar o cinema: variações do fora-de-campo em filmes indígenas. Sociologia & Antropologia, 6(3), 601-634. http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752016v633
Calegare, M. G., Ferreira, M., Sampaio, C. R., & Clennon, O. D. (2020). Re-Encountering traditional Indigenous activities through a psychosocial intervention in Sunrise community. Interamerican Journal of Psychology, 53(3), 364-379. https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v53i3.1162
Carelli, V. (2011) Um novo olhar, uma nova imagem. In A. Araújo, E. Carvalho, & V. Carelli (Orgs.), Vídeo nas Aldeias, 25 anos (1986-2011) (pp. 42-51). Vídeo nas Aldeias.
Carneiro, R. G. (2019). Sujeitos comunicacionais indígenas e processos etnocomunicacionais: a etnomídia cidadã da Rádio Yandê [Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos]. RDBU. http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/8195/Raquel%20Gomes%20Carneiro_. pdf?sequence=1&isAllowed=y
Carvalho, E. M. D. S., & Santos, R. L. D. (2023). Literatura Indígena: entre memórias. Educação em Revista, 39, 1-12. https://doi.org/10.1590/0102-469838419
Conselho Federal de Psicologia. (2022). Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) junto aos povos indígenas. https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_indigenas_web.pdf
Conselho Nacional de Saúde (Brasil). (2000). Resolução Nº 304 de 09 de agosto de 2000. Diário Oficial da União, 101, 49-55. https://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/NORMASRESOLUCOES/06._Resolu%C3%A7%C3%A3o_304_2000_Povos_Ind%C3%ADgenas.PDF
Conselho Nacional de Saúde (Brasil). (2013). Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União, 112, 59-62. https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/06/2013&jo rnal=1&pagina=59&totalArquivos=140
Conselho Nacional de Saúde (Brasil). (2016). Resolução N° 510, de 7 de abril de 2016. Diário Oficial da União, 98, 44-46. https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/05/2016&jornal=1 &pagina=44&totalArquivos=80
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. (2016). Povos indígenas e psicologia: a procura do bem viver. http://cedoc.crpsp.org.br/handle/1/662 Costa, A. C. E. (2018). Continuidades, rupturas, desdobramentos: conexões entre cinema indígena, pensamento e xamanismo. Iluminuras, 19(46), 99-134. https://doi.org/10.22456/1984-1191.85244
Costa, G., & Galindo, D. (2018) Produção audiovisual no contexto dos povos indígenas: transbordamentos estéticos e políticos. In P. S. Delgado & N. T. Jesus (Orgs.), Povos Indígenas no Brasil: perspectiva no fortalecimento de lutas e combate ao preconceito por meio do audiovisual (pp. 21-48). Brazil Publishing. https://doi.org/10.31012/pinbpfdlcppma
Costa, G., & Galindo, D. (2021). Produção audiovisual indígena no Brasil: cartografia de um percurso. Comunicação & Sociedade, 43(1), 103-139. https://doi.org/10.15603/2175-7755/cs.v43n1p103-139
Cruz Souza, F., Quiqueto, A. M. B., Lena, M. B. A., Santi, V. J. C., & Moraes, N. R. (2021). Etnodesenvolvimento e bem viver: concepções e implicações para políticas públicas. Research, Society and Development, 10(2), e48910212860-e48910212860. https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12860
Dalla Rosa, L. C. (2019). Bem viver e terra sem males: a cosmologia dos povos indígenas como uma epistemologia educativa de decolonialidade. Educação, 42(2), 298-307. https://doi.org/10.15448/19812582.2019.2.27652
Daminello, L. A. (2022). Uma etnografia de dentro para fora: ensaios sobre o cinema indígena. DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, 31, 135-141. https://doi.org/110.25768/1646-477x-31lt01
Dorrico, J. (2017). A literatura indígena brasileira e as novas tecnologias da memória: da tradição oral à escrita formal e à utilização de mídias digitais. Littera: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, 8(14), 113-139.
Dussel, E. (2009). Una nueva edad en la historia de la filosofía: el diálogo mundial entre tradiciones filosóficas. Tabula Rasa, 11, 97-114. http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n11/n11a06.pdf
Faria, L. L. D., & Martins, C. P. (2020). Fronteras coloniales, Psicología de la Liberación y la desobediencia indígena. Psicologia para América Latina, 33, 33-42. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/n33/a05n33.pdf
Fernandes, F. O. P., Azevedo, D. L., Barreto, J. P. L., & Calegare, M. (2021). The macro cultural psychology understanding of the constitution of a Yepa Mahsã person. Culture & Psychology, 27(2), 243-257. https://doi.org/10.1177/1354067X20951890
Ferraz, I. T., & Domingues, E. (2016). A psicologia brasileira e os povos indígenas: atualização do estado da arte. Psicologia: Ciência e Profissão, 36, 682-695. https://doi.org/10.1590/1982-3703001622014
Ferreira, J. F. (2023). Repertório bibliográfico sobre a questão indígena no Brasil. Câmara dos Deputados. https:// bd.camara.leg.br/bd/items/51f28e96-00b4-4480-a671-2b15bfe06b00
Figueiredo, E. (2018). Eliane Potiguara e Daniel Munduruku: por uma cosmovisão ameríndia. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, 53, 291-304. https://doi.org/10.1590/2316-40185312
Gallego, L. X. T. (2021). Discusiones sobre políticas de etnicidad, procesos culturales y apropiación audiovisual en comunidades Amerindias en Colombia. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 16(2), 96-117. https://www.redalyc.org/journal/2970/297074669006/297074669006.pdf
Gallois, D. T., & Carelli, V. (1995). Diálogo entre povos indígenas: a experiência de dois encontros mediados pelo vídeo. Revista de Antropologia, 38(1), 205-59.
González, R., Carvacho, H., & Jiménez-Moya, G. (2022). Psicología y Pueblos Indígenas. Annual Review of Psychology, 73, S1-S32. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-092421-034141
Hwang, K. (2017). The rise of indigenous psychologies: In response to Jahoda’s criticism. Culture & Psychology, 23(4), 551-565. https://doi.org/10.1177/1354067X16680338
Jekupé, O. (2009). Literatura escrita pelos povos indígenas. Scortecci. Jesus, N. T., & Moreira, B. D. (2018) Comunicação e cultura: dimensão pedagógica das narrativas indígenas em audiovisual. In P. S. Delgado & N. T. Jesus (Orgs.), Povos Indígenas no Brasil: Perspectiva no fortalecimento de lutas e combate ao preconceito por meio do audiovisual (pp. 21-48). Brazil Publishing. https://doi.org/10.31012/pinbpfdlcppma
Kopenawa, D., & Albert, B. (2015). A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Companhia das Letras. Krenak, A. (2018). A Potência do Sujeito Coletivo – Parte I [entrevista concedida a Jailson de Souza Silva]. Revista periferias, 1(1), 1-21.
Lengen, P., & Santos, A. (Produtores). (2013). Uma casa, uma vida [Filme]. Irwin Winkler. https://www.youtube. com/watch?v=Hf2u0_O1XYs
Lopes, N. D. L. (2018). Quando os pensamentos se expandem em todas as direções: caminhos para compreender as recentes criações indígenas no Brasil [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. UFRGS Lume.
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/193041/001091158. pdf?sequence=1&isAllowed=y
Macedo Nunes, K., Silva, R. I., & Oliveira dos Santos Silva, J. (2014). Cinema indígena: de objeto a sujeito da produção cinematográfica no Brasil. Polis, 13(38), 1-26. http://dx.doi.org/10.4067/S071865682014000200009
Maldonado-Torres, N. (2017). Frantz Fanon and the decolonial turn in psychology: From modern/colonial methods to the decolonial attitude. South African Journal of Psychology, 47(4), 432-441. https://doi. org/10.1177/0081246317737918
Margulies, I. (2019). A Sort of Psychodrama: Verité Moments 58–61. In I. Margulies (Org.), In Person: Reenactment in Postwar and Contemporary Cinema (pp. 113-140). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190496821.003.0005
Martínez Ramos, M. E., Revollo Pardo, C., & Bastos, G. D. S. (2019). Ee’iranajawaa: transdisciplinary elements and posture against hegemonic as transforming power. Fractal: Revista de Psicologia, 31, 201-207. https://doi.org/10.22409/1984-0292/v31i_esp/29052
Martins, H. V. (2020). Usos dos discursos psi: a questão racial (1930-1950). Arquivos Brasileiros de Psicologia, 72, 33-47. https://doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2020v72s1p.33-47
Miranda, V. (2020). Mulheres indígenas de Manaus: construindo políticas afirmativas no SUS. Revista Psicologia e Saúde, 12(3),127-143. https://doi.org/10.20435/pssa.vi.1070
Mitjáns Martínez, A., González Rey, F., & Valdés Puentes, R. (2019). Epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade: discussões sobre educação e saúde. EDUFU.
Morin, E. (1960). Pour un nouveau ‘cinéma-vérité’. Presses Universitaires de Rennes. Morin, E. (2005). Introdução ao pensamento complexo.
Sulina. Moura, I. S., & Baldi, V. (2021). “Isto não é uma ilha, isto é um Bairro”: representações audiovisuais da comunidade do Bairro Herculano. Discursos Fotográficos, 17(30), 10-27. https://doi.org/10.5433/19847939.2021v17n30p10
Neto, M. G. (2023). Literatura produzida por povos indígenas. Educação em Revista, 39, e41804. https://doi. org/10.1590/0102-469841804
Pachamama, A. B. M. (2020). Palavra é coragem: autoria e ativismo de originários na escrita da História. In J. Dorrico, F. Danner, & L. F. Danner (Orgs.), Literatura indígena brasileira contemporânea: autoria, autonomia e ativismo (p. 26-40). Editora Fi.
Pavón-Cuéllar, D. (2021). Hacia una descolonización de la psicología latinoamericana: condición poscolonial, giro decolonial y lucha anticolonial. Brazilian Journal of Latin American Studies, 20(39), 95-127. https:// www.researchgate.net/publication/354650505_Hacia_una_descolonizacion_de_la_psicologia_ latinoamericana_condicion_poscolonial_giro_decolonial_y_lucha_anticolonial
Pavón-Cuéllar, D. (2022). Além da psicologia indígena: concepções mesoamericanas da subjetividade. Editora Perspectiva S/A.
Pavón-Cuéllar, D. (2024). Colonialism, subjectivity, and psychology in Latin America. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 44(3),191-202. https://doi.org/10.1037/teo0000217
Pizzinato, A., Guimarães, D. S., & Leite, J. F. (2019). Psicologia, povos e comunidades tradicionais e diversidade etnocultural. Psicologia: Ciência e Profissão, 39, 3-8. https://doi.org/10.1590/1982-3703000032019
Queiroz, R. C. (2008). Cineastas indígenas e pensamento selvagem. DEVIRES-Cinema e Humanidades, 5(2), 98-125.
Quijano, A., & Wallerstein, I. (1992). Americanity as a concept; or, The Americas in the Modern World-System. International Social Science Journal, 134(4), 549-557.
Rouch, J., & Morin, E (Diretores). (1961). Chronique d’un été [Filme]. Argos-Films. https://www.youtube.com/ watch?v=HrbsVIs6KWY
Rouch, J. (1993) Essai sur les avatars de la personne du possédé, du magicien, du sorcier, du cinéaste et de l’ethnographe. In R. Bastide & G. Dieterlen (Dir.), La notion de personne en Afrique Noire (pp. 529-544).
Éditions du CNRS. Rouch, J. (Diretor). (1959). La pyramide humaine [Filme]. Films de La Pléiade. https://www.youtube.com/ watch?v=9MB1zi7j7X8
Rouch, J. (1979). Note sur les problèmes techniques soulevés par l’expérience Super 8. Cahiers du Cinéma.
Sanjinés, J. (2018). Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau: teoria e prática de um cinema junto ao povo. Mmarte.
Schnitman, D. F. (1999). Novos paradigmas na resolução de conflitos. In D. F. Schnitman & S. Littlejohn (Orgs.), Novos paradigmas em mediação (pp. 17-27). Editora Artes Médicas Sul.
Souza, R. M. (2020). Indígenas e negros nas cidades: escuta clínica para a saúde mental e ciência psicológica. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as, 12(34), 574-600. https://doi. org/10.31418/2177-2770.2020
Symphor, B. (2017, Junho 6). La caméra des possibles. Critikat. https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/ pyramide-humaine/
Sztutman, R. (2004). Jean Rouch: um antropólogo-cineasta. In S. C. Novaes, A. Barbosa, E. T. Cunha, R. Sztutman, & R. S. G. Hijiki (Orgs.), Escrituras da imagem (pp. 49-62). Fapesp.
Talak, A. M. (2022). Psicología, colonialidad y procesos de decolonización. Revista de Psicología - Tercera Época; 21(2), 88-100. https://doi.org/10.24215/2422572Xe154
Teixeira, P. P. (2022) A circularidade do documentário: leituras urbanas, colaboração e audiovisual [Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo]. Biblioteca digital da FAPESP.
Tenente, V. C., Barros, R. K. B., & Machado, A. (2023). Fibras e cipós: artes Wapichana e Tupinambá em diálogo. Moara, 61, 230-245. http://dx.doi.org/10.18542/moara.v0i61.13874
Teruya, T. K. (2021). Estudos culturais, mídias e racismo. In S. M. G. Sampaio, M. G. Centeno, & L. G. Pissinatti (Orgs.). Escrito das margens e suas vozes (p. 69-82). EDUFRO.
Warters, W. C. (1999). Mediação no Ensino Superior: uma abordagem da resolução de problemas para “anarquias organizadas” In D. F. Schnitman & S. Littlejohn (Orgs.), Novos paradigmas em mediação (pp. 127-142). Editora Artes Médicas Sul.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Categorias
Licença
Copyright (c) 2025 Ronaldo Gomes-Souza, Cláudia Regina Brandão Sampaio, Marcelo Claudio Tramontano

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.